De Robespierre à "lava jato": quem irá salvar o Direito dos virtuosos?
A
história está repleta de situações em que o horror e a crueldade muitas
vezes foram impostos com base na “boa intenção” de pessoas “puras”. No
século XVIII, o advogado e político francês Maximilien de
Robespierre, reconhecido por seus contemporâneos como um homem
incorruptível, utilizou o terror revolucionário como instrumento
cirúrgico para impor seu rígido padrão moral à nação. O caso de
Robespierre é um excelente exemplo de como o uso do arbítrio, em nome de
causas “nobres”, apenas serve para instaurar o terror como meio de
exercício do poder. No entanto, nem todo mundo é capaz de se atentar
para esse detalhe, e aí nos deparamos novamente com agentes públicos —
que se consideram incorruptíveis — justificando todo tipo de violação do
Estado de Direito em nome do combate à corrupção. É a história se
repetindo como farsa ou tragédia, como bem ensinou um certo senhor
barbudo no século XIX.
Esse é o caso da operação "lava jato". Para quem há muito tempo já vinha denunciando os abusos perpetrados pela operação, os vazamentos das conversas nada republicanas entre o ex-juiz Sergio Moro e seus subordinados no MPF não foram uma surpresa. O jurista Lenio Streck — por meio de sua coluna semanal na ConJur — constantemente se opôs às ilegalidades praticadas pela operação. Em defesa da Constituição, Streck atacou as conduções coercitivas aplicadas sem qualquer respaldo no CPP; condenou os vazamentos ilegais de conversas entre a então presidente da República Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula; questionou a ausência de provas na condenação do ex-presidente; e bateu firme na maneira inquisitorial pela qual o ex-juiz Sergio Moro atuou nos processos da "lava jato". Nesse sentido, de acordo com as críticas apresentadas por Streck, já dava para perceber que a atuação do Poder Judiciário e do MPF na operação "lava jato" funcionava como um verdadeiro bloco monolítico.
Acontece que muita gente ainda cai no canto das sereias e vislumbra a possibilidade de que violações à Constituição, quando cercadas de boas intenções, sempre podem nos oferecer algo de bom. Quantos juristas, jornalistas, políticos e membros da sociedade civil se emocionaram diante do virtuoso juiz Sergio Moro? Quantos ainda insistem em distorcer o Estado de Direito para salvar seus heróis?
Vejam só o caso do jurista Luciano Benetti Timm, um ilustre representante da análise econômica do Direito no Brasil. Recentemente, Timm publicou um artigo no jornal O Globo para defender a operação "lava jato" "sob o ponto de vista do pragmatismo", como ele próprio afirmou. Para além da amnésia do jornal, que se esqueceu de informar ao leitor que o autor do artigo é subordinado a Sergio Moro no Ministério da Justiça, Timm nos apresentou os seguintes argumentos para justificar os arbítrios praticados por seu chefe:
Como desde cedo aprendemos a desconfiar da “bondade” dos “bons”, sabemos que uma sociedade democrática não precisa de heróis. Seja para combater a corrupção ou para proteger as nossas liberdades, é no Estado de Direito que sempre devemos confiar. É nesse sentido que a lição deixada por James Madison continua muito atual. Em um de seus artigos na obra O Federalista, Madison dizia que, “se os homens fossem anjos, não seria necessário governo algum. Se os homens fossem governados por anjos, o governo não precisaria de controles externos nem internos”[2].
Por não existirem anjos na terra é que precisamos enfrentar todo tipo de instrumentalização do Direito que tenta se impor em sociedades democráticas. Ou o Direito é levado a sério, ou sempre ficaremos reféns da vontade de quem exerce o poder. A instrumentalização transforma em pó todas as garantias que possuímos contra o exercício do poder e permite que o agente público se comporte como um verdadeiro autocrata.
Vejam só o que aconteceu no caso dos vazamentos. O ex-juiz Sergio Moro, enquanto responsável por vazamentos ilegais, dizia que o vazamento em si não devia ser visto como um problema, já que ele revelava um conteúdo de interesse público. Tempos depois, quando suas conversas nada republicanas com Deltan Dallagnol foram reveladas[3], Moro rapidamente mudou de ideia e passou a atacar os vazamentos que contrariam seu projeto de poder. Assim fica difícil estabelecer um critério minimamente racional para falarmos sobre vazamentos. Afinal, vazamentos podem ou não acontecer? Vazamentos violam ou não direitos fundamentais? O interesse público deve prevalecer sobre o direito fundamental à privacidade? Como é possível perceber, não temos condição de responder a essas perguntas com base nas declarações do ex-juiz Sergio Moro, pois o que ele deixa bastante claro é que a violação da privacidade sempre dependerá de um juízo de conveniência feito por ele.
Longe da concepção jurídica consequencialista do ex-juiz Sergio Moro, é importante ressaltar que direitos fundamentais não podem ser restringidos em nome de argumentos abstratos como é o do interesse público, já que toda e qualquer restrição a direito fundamental deve ser fundada em norma constitucional, não bastando para tanto a simples alegação de estar a atender um interesse público. O agente público, assim, não é dotado de liberdade de escolha para decidir os parâmetros de legalidade que irão pautar a sua atividade[4]. Uma vez clamado a realizar o interesse público, ao se deparar com um interesse particular legítimo, o agente deve considerar as peculiaridades do caso concreto para que sejam preservadas a coerência e a integridade do Direito e que seja dada a solução mais adequada constitucionalmente.
Não obstante boa parte da população brasileira que se autodeclara "apoiadores da 'lava jato'" assentar a sua permissividade com a violação de parâmetros mínimos de legalidade na necessidade de combate à corrupção a todo e qualquer custo, esse imaginário não pode ser transposto para a comunidade jurídica, sob pena de corrupção do próprio sistema de Justiça e das vias institucionais de controle do poder público. Se somos nós os atores jurídicos, o nosso primeiro passo é aceitar que não chegará nenhum virtuoso para nos salvar. A realidade dos fatos (que a partir de agora estão postos e não mais especulados) conclama: cabe a nós defender o Direito.
Voltando a Robespierre, a história da Revolução Francesa nos faz recordar que, de tanto utilizar a guilhotina, o virtuoso jacobino acabou guilhotinado. No caso do ex-juiz Sergio Moro, a história seguiu um caminho semelhante. De tanto fazer vazamentos, Moro acabou atingido por um grande vazamento que ainda não teve todo o seu conteúdo revelado pela imprensa. Agora resta saber quais serão as consequências dessa nova situação. Haverá uma reação contra os arbítrios da "lava jato", ou o Estado de Direito mais uma vez será engolido pela fome de poder dos virtuosos da nação? Ainda não sabemos o que vai acontecer, mas esperamos que a sociedade brasileira tenha maturidade democrática para saber defender sua Constituição dos ataques daqueles que pretendem se colocar acima dela.
[1] TIMM, Luciano Benetti. Aspectos éticos da Lava Jato. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/opiniao/artigo-aspectos-eticos-da-lava-jato-23746943>. Acessado em 20 de jun. 2019.
[2] MADISON, James. Artigo 51. In: HAMILTON, Alexander; JAY, John; ______. O Federalista. 2ª ed., Lisboa: Calouste Gulberkian, 2011, pp. 467-473.
[3] Ainda não há informação sobre a origem dos vazamentos. De qualquer forma, é importante destacar que os jornalistas do Intercept Brasil não cometeram nenhum crime ao divulgar o conteúdo do material, pois, em nome da liberdade de imprensa, jornalistas nunca são obrigados a divulgar suas fontes.
[4] TEIXEIRA, Anderson Vichinkeski ; NEVES, Isadora Ferreira. O direito fundamental à administração pública e o mito da supremacia do interesse público: os direitos fundamentais como delimitação do interesse público. Revista Jurídica (FURB. Online), v. 20, p. 79-102, 2016.
Esse é o caso da operação "lava jato". Para quem há muito tempo já vinha denunciando os abusos perpetrados pela operação, os vazamentos das conversas nada republicanas entre o ex-juiz Sergio Moro e seus subordinados no MPF não foram uma surpresa. O jurista Lenio Streck — por meio de sua coluna semanal na ConJur — constantemente se opôs às ilegalidades praticadas pela operação. Em defesa da Constituição, Streck atacou as conduções coercitivas aplicadas sem qualquer respaldo no CPP; condenou os vazamentos ilegais de conversas entre a então presidente da República Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula; questionou a ausência de provas na condenação do ex-presidente; e bateu firme na maneira inquisitorial pela qual o ex-juiz Sergio Moro atuou nos processos da "lava jato". Nesse sentido, de acordo com as críticas apresentadas por Streck, já dava para perceber que a atuação do Poder Judiciário e do MPF na operação "lava jato" funcionava como um verdadeiro bloco monolítico.
Acontece que muita gente ainda cai no canto das sereias e vislumbra a possibilidade de que violações à Constituição, quando cercadas de boas intenções, sempre podem nos oferecer algo de bom. Quantos juristas, jornalistas, políticos e membros da sociedade civil se emocionaram diante do virtuoso juiz Sergio Moro? Quantos ainda insistem em distorcer o Estado de Direito para salvar seus heróis?
Vejam só o caso do jurista Luciano Benetti Timm, um ilustre representante da análise econômica do Direito no Brasil. Recentemente, Timm publicou um artigo no jornal O Globo para defender a operação "lava jato" "sob o ponto de vista do pragmatismo", como ele próprio afirmou. Para além da amnésia do jornal, que se esqueceu de informar ao leitor que o autor do artigo é subordinado a Sergio Moro no Ministério da Justiça, Timm nos apresentou os seguintes argumentos para justificar os arbítrios praticados por seu chefe:
“Não estávamos na ocasião, como não estamos hoje, em um ambiente de normalidade institucional”.
“Se
o bem maior era a República e o bem da nação, eticamente não se
exigiria outra coisa de um virtuoso que não a de proteger o resultado da
Operação Lava-Jato [...]”[1].
Aqui é importante apontar dois aspectos perigosos na argumentação de Timm: (i)
num primeiro momento, ele afirma que o país vive um ambiente de
anormalidade institucional para justificar a suspensão de direitos
fundamentais feita pela "lava jato"; (ii) para logo em seguida
dizer que um virtuoso — uma espécie de Robespierre tupiniquim — deve
compactuar com as ilegalidades da "lava jato" para salvar a República da
corrupção. Resta saber qual o papel do Direito num ambiente marcado por
tamanha irracionalidade, já que o Direito, na visão de Timm, seria
apenas aquilo que um virtuoso diz que ele é. Como desde cedo aprendemos a desconfiar da “bondade” dos “bons”, sabemos que uma sociedade democrática não precisa de heróis. Seja para combater a corrupção ou para proteger as nossas liberdades, é no Estado de Direito que sempre devemos confiar. É nesse sentido que a lição deixada por James Madison continua muito atual. Em um de seus artigos na obra O Federalista, Madison dizia que, “se os homens fossem anjos, não seria necessário governo algum. Se os homens fossem governados por anjos, o governo não precisaria de controles externos nem internos”[2].
Por não existirem anjos na terra é que precisamos enfrentar todo tipo de instrumentalização do Direito que tenta se impor em sociedades democráticas. Ou o Direito é levado a sério, ou sempre ficaremos reféns da vontade de quem exerce o poder. A instrumentalização transforma em pó todas as garantias que possuímos contra o exercício do poder e permite que o agente público se comporte como um verdadeiro autocrata.
Vejam só o que aconteceu no caso dos vazamentos. O ex-juiz Sergio Moro, enquanto responsável por vazamentos ilegais, dizia que o vazamento em si não devia ser visto como um problema, já que ele revelava um conteúdo de interesse público. Tempos depois, quando suas conversas nada republicanas com Deltan Dallagnol foram reveladas[3], Moro rapidamente mudou de ideia e passou a atacar os vazamentos que contrariam seu projeto de poder. Assim fica difícil estabelecer um critério minimamente racional para falarmos sobre vazamentos. Afinal, vazamentos podem ou não acontecer? Vazamentos violam ou não direitos fundamentais? O interesse público deve prevalecer sobre o direito fundamental à privacidade? Como é possível perceber, não temos condição de responder a essas perguntas com base nas declarações do ex-juiz Sergio Moro, pois o que ele deixa bastante claro é que a violação da privacidade sempre dependerá de um juízo de conveniência feito por ele.
Longe da concepção jurídica consequencialista do ex-juiz Sergio Moro, é importante ressaltar que direitos fundamentais não podem ser restringidos em nome de argumentos abstratos como é o do interesse público, já que toda e qualquer restrição a direito fundamental deve ser fundada em norma constitucional, não bastando para tanto a simples alegação de estar a atender um interesse público. O agente público, assim, não é dotado de liberdade de escolha para decidir os parâmetros de legalidade que irão pautar a sua atividade[4]. Uma vez clamado a realizar o interesse público, ao se deparar com um interesse particular legítimo, o agente deve considerar as peculiaridades do caso concreto para que sejam preservadas a coerência e a integridade do Direito e que seja dada a solução mais adequada constitucionalmente.
Não obstante boa parte da população brasileira que se autodeclara "apoiadores da 'lava jato'" assentar a sua permissividade com a violação de parâmetros mínimos de legalidade na necessidade de combate à corrupção a todo e qualquer custo, esse imaginário não pode ser transposto para a comunidade jurídica, sob pena de corrupção do próprio sistema de Justiça e das vias institucionais de controle do poder público. Se somos nós os atores jurídicos, o nosso primeiro passo é aceitar que não chegará nenhum virtuoso para nos salvar. A realidade dos fatos (que a partir de agora estão postos e não mais especulados) conclama: cabe a nós defender o Direito.
Voltando a Robespierre, a história da Revolução Francesa nos faz recordar que, de tanto utilizar a guilhotina, o virtuoso jacobino acabou guilhotinado. No caso do ex-juiz Sergio Moro, a história seguiu um caminho semelhante. De tanto fazer vazamentos, Moro acabou atingido por um grande vazamento que ainda não teve todo o seu conteúdo revelado pela imprensa. Agora resta saber quais serão as consequências dessa nova situação. Haverá uma reação contra os arbítrios da "lava jato", ou o Estado de Direito mais uma vez será engolido pela fome de poder dos virtuosos da nação? Ainda não sabemos o que vai acontecer, mas esperamos que a sociedade brasileira tenha maturidade democrática para saber defender sua Constituição dos ataques daqueles que pretendem se colocar acima dela.
[1] TIMM, Luciano Benetti. Aspectos éticos da Lava Jato. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/opiniao/artigo-aspectos-eticos-da-lava-jato-23746943>. Acessado em 20 de jun. 2019.
[2] MADISON, James. Artigo 51. In: HAMILTON, Alexander; JAY, John; ______. O Federalista. 2ª ed., Lisboa: Calouste Gulberkian, 2011, pp. 467-473.
[3] Ainda não há informação sobre a origem dos vazamentos. De qualquer forma, é importante destacar que os jornalistas do Intercept Brasil não cometeram nenhum crime ao divulgar o conteúdo do material, pois, em nome da liberdade de imprensa, jornalistas nunca são obrigados a divulgar suas fontes.
[4] TEIXEIRA, Anderson Vichinkeski ; NEVES, Isadora Ferreira. O direito fundamental à administração pública e o mito da supremacia do interesse público: os direitos fundamentais como delimitação do interesse público. Revista Jurídica (FURB. Online), v. 20, p. 79-102, 2016.



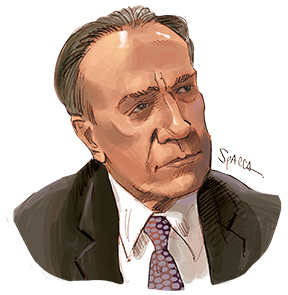 “
“


